quarta-feira, 23 de dezembro de 2009
A queda da palavra: a perda da inocência
segunda-feira, 21 de dezembro de 2009
A palavra inventada


quarta-feira, 16 de dezembro de 2009
Palavras rolando

quarta-feira, 9 de dezembro de 2009
A fábrica de palavras

segunda-feira, 7 de dezembro de 2009
A palavra oculta

domingo, 6 de dezembro de 2009
GastrôVeredás
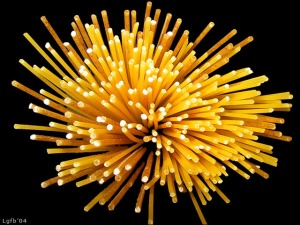
sexta-feira, 27 de novembro de 2009
A origem das palavras

quinta-feira, 19 de novembro de 2009
A palavra escrita é mágica

domingo, 8 de novembro de 2009
A palavra no silêncio

segunda-feira, 2 de novembro de 2009
A palavra emprestada

quarta-feira, 28 de outubro de 2009
Chagall e as Almas Mortas de Nikolai Gogol






segunda-feira, 26 de outubro de 2009
Jayme Cavalcante PAISAGENS - VERNISSAGE

Conheço Jayme há muitos anos. Tenho tido o prazer e a honra de ser seu amigo. Sua obra é vasta assim como sua coleção de arte particular e os amigos que o admiram e o rodeiam. Seu generoso ateliê reflete sua personalidade que está sempre de portas abertas ao público. Sua pintura possui luz própria porque ele vem da boa tradição da pintura ao ar livre que teve em Aluizio do Valle, um dos seus professores e mestres.
O pouco que aprendi de pintura sou grato e devo a ele. Repito, sua generosidade em me ensinar as nuances do claro/escuro bem como as combinações das cores e outras técnicas me deixaram uma marca indelével na alma. A marca da sua palheta, tão repleta de cores. Cores da sua vida.
JAYME FARÁ UMA EXPOSIÇÃO DIA 05 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 18:00HS NO MUSEU DO INGÁ EM NITERÓI-RJ. Rua Presidente Pedreira, 78. (tel: 21-2717.2919)
Este é um pequeno currículo de sua vida e vasta obra:
Pintor, Jayme Cavalcante nasceu a 8 de julho de 1938,
em Salvador. Um dos fundadores do Núcleo de Arte
Fluminense-NAF, em 1969, teve sua formação artística
orientada para a pintura ao ar livre, com os professores
J. Carvalho, Jair Picado e Aluízio Valle. No início da
década de 1980, exerceu a função de consultor
especializado em sistemas de apoio operacional para
conservação e restauração, nas mostras História
da Pintura Brasileira no Século XIX e Seis Décadas
de Arte Moderna na
Coleção Roberto Marinho.
Sua obra está citada em várias publicações, entre as quais
La cote de peintres, de Akoun - Paris, 1994; Artes plásticas Brasil 92,
de Júlio Louzada - SP, 1992; Dicionário de pintores do Brasil,
de João Medeiros - RJ, 1988 e Dicionário brasileiro
de artistas plásticos, de Carlos Cavalcanti - Brasília, 1973.
Além disso, a pintura de Jayme Cavalcante integra as coleções
da Câmara Municipal de Sabrosa, Portugal;
da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, SP.
  JAYME CAVALCANTE Enseada da Boa Viagem - Niterói - RJ |
terça-feira, 20 de outubro de 2009
INHOTIM: uma viagem ao canto chão da Terra




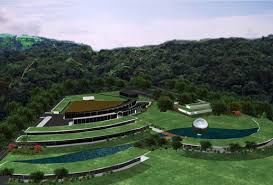















quarta-feira, 14 de outubro de 2009
O nascimento de Livia
sábado, 10 de outubro de 2009
Carta para Livia - um mês depois...
quarta-feira, 7 de outubro de 2009
Amores efêmeros
As bocas salgadas pela maresia
As costas lanhadas pela tempestade
Naquela cidade distante do mar
Amaram o amor serenado das noturnas praias
Levantavam as saias e se enluaravam de felicidade
Naquela cidade que não tem luar
Amavam o amor proibido, pois hoje é sabido
Todo mundo conta
Que uma andava tonta grávida de lua
E outra andava nua ávida de mar...

.jpg)

